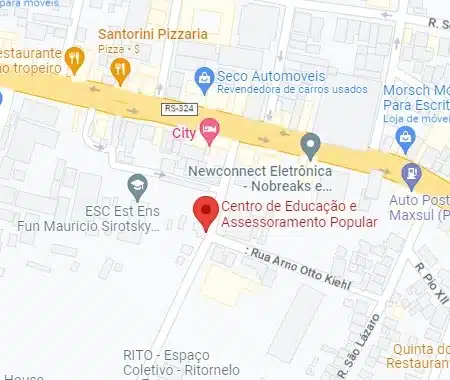No dia 18 de maio, o Brasil celebra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, uma data que simboliza a resistência contra a violência dos manicômios e a defesa de um cuidado em saúde mental pautado na liberdade, na cidadania e nos direitos humanos. O movimento, que ganhou força nas décadas de 1970 e de 1980, denuncia a lógica da exclusão e do confinamento de pessoas em sofrimento psíquico, propondo, em seu lugar, uma rede de atenção psicossocial comunitária e humanizada.
De acordo com a ativista da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos e integrante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que são núcleos da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial do Brasil (RENILA), Andreza Almeida Fernandes Alves, a escolha do 18 de maio remonta ao Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, realizado em Bauru (SP), em 1987, marco que consolidou o lema “Por uma Sociedade sem Manicômios”. A data resgata a memória das violações cometidas nos hospitais psiquiátricos brasileiros e reafirma a necessidade de um modelo de cuidado que não se baseie no isolamento e na medicalização excessiva. “É um dia para reafirmar que o modelo biomédico, centrado e hospitalocêntrico, é um modelo violento e que, de fato, não cuida das pessoas com sofrimento mental”.
A militante ressalta que o movimento não surgiu isoladamente, mas no contexto da redemocratização do Brasil, em sintonia com as lutas por direitos sociais e pela Reforma Sanitária. “Nem sempre só os loucos são internados nos hospícios, mas, de uma forma geral, sempre sobrou esse espaço para os indesejados. A gente costuma dizer que tem três grandes espaços para os indesejados: a prisão, o manicômio ou o caixão. Então a gente percebe isso aí, principalmente aqui no Brasil, na década de 70, o grande caos que viraram os hospitais psiquiátricos”, pontua.
A história da barbárie: os porões da loucura no Brasil
A luta antimanicomial nasceu de denúncias sobre as condições desumanas em hospitais psiquiátricos, especialmente durante a ditadura militar. Andreza cita exemplos chocantes, como o Hospital Colônia de Barbacena (MG), onde milhares de pessoas foram internadas, torturadas e mortas. “Franco Basaglia esteve no Brasil em 1979 e visitou o Hospital Colônia em Barbacena. Ele ficou assustadíssimo com o que viu. Pessoas morriam, e a gente tem a história dos insepulcros, daquelas pessoas que nunca puderam ser sepultadas. Barbacena é muito frio. Muitas pessoas internadas se amontoavam para se aquecer, e pela manhã acordava com mortos embaixo desses amontoados. Era uma indústria da loucura.”
Relatos como esses foram documentados no livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista Daniela Arbex, e em reportagens como “Nos Porões da Loucura”, de Hiram Firmino. Estima-se que, nos anos 1970, o Brasil tinha mais de 90 mil leitos psiquiátricos, muitos em instituições privadas que lucravam com internações prolongadas e tratamentos brutais, como eletrochoques em massa. “ Chamamos de fábrica da loucura, porque tem todo um viés mercadológico que envolve as internações em massa de pessoas e isso acontecia aqui no Brasil, na sua grande maioria, com hospitais privados conveniados e que geravam um gasto absurdo para o país com internações de longo prazo, em média na época eram de 100 dias, sem contar aquelas pessoas que nunca mais voltaram para casa, e um elevado número de mortes que aconteciam dentro dos hospitais psiquiátricos, o abandono, e cada vez mais um lucro exorbitante de proprietários desses hospitais”, comenta.
A Reforma Psiquiátrica e os Avanços da Luta Antimanicomial
A partir das denúncias, o movimento pressionou por mudanças, resultando na Lei 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa legislação determinou o fechamento progressivo dos manicômios e a criação de uma rede de serviços comunitários, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Residências Terapêuticas e Serviços de Acolhimento. “A reforma psiquiátrica brasileira nasce do movimento de denúncia, do movimento antimanicomial. Vão surgindo experiências de uma rede substitutiva, com equipes multiprofissionais, onde o médico não é o único detentor do saber. A gente defende que as pessoas sejam tratadas perto de suas casas, em serviços como os CAPS, as residências terapêuticas e os leitos em hospitais gerais – porque a gente não defende mais leitos em hospitais psiquiátricos”, disse.
Ela também alerta para os novos desafios, como o crescimento das comunidades terapêuticas, que muitas vezes reproduzem a lógica manicomial. “Ainda há um enfrentamento cotidiano, principalmente com as comunidades terapêuticas, que a gente chama de ‘os novos manicômios’. Ainda existem hospitais psiquiátricos que precisam ser fechados e modelos de cuidado que não prezam pela liberdade”.
O futuro da luta
O movimento antimanicomial segue ativo, defendendo políticas públicas que garantam acolhimento digno, inserção social e combate ao preconceito. “A radicalidade da luta antimanicomial é, de fato, a delicadeza. A gente quer políticas robustas, inventivas, alegres, bonitas e coloridas – e, o mais importante, que sejam delicadas”, finalizou.
Neste 18 de maio, a mensagem é clara: nenhum passo atrás na defesa da liberdade e da vida. A sociedade sem manicômios não é apenas uma utopia – é uma luta diária por justiça e humanização no cuidado em saúde mental.